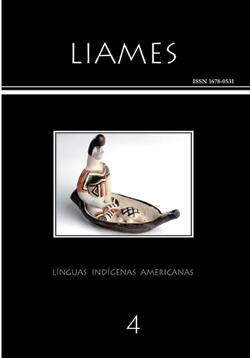Resumo
Este trabalho discute a hipótese, aventada em trabalho anterior do mesmo autor (Rodrigues 1999), de que a origem da diferenciação entre fala masculina e fala feminina, no Karajá, deve-se a uma interferência de falantes da língua Xavante (família Jê). O exame da documentação mais antiga sobre as duas línguas em questão, nos registros da primeira metade do século XIX, trazem algum problema para a hipótese em questão, mas neste texto propõe-se uma explicação que mantém a hipótese da interferência, relacionando Karajá com o Xavante atual.Referências
BORGES, M. V. (1997). As falas feminina e masculina no Karajá. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Dissertação de Mestrado
BRETON, R. (1999) [1665]. Dictionnaire Caraïbe-Français. Nouvelle édition sous la responsabilité de Marina Besada Paisa. Paris: Karthala/IRD.
CHAIM, M. M. (1983). Aldeamentos indígenas (Goiás 1749-1811). 2a . edição. São Paulo: Nobel.
HALL, J., R. A. McLeod e V. Mitchell (1987). Pequeno dicionário Xavánte-Português, Português-Xavánte. Brasília: Summer Institute of Linguistics.
LACHNITT, G. (1987). Romnhitsi’ubumro A’uwe mreme-Waradzu mreme, dicionário Xavante-Português. Edição experimental. Campo Grande: Missão Salesiana de Mato Grosso.
LACHNITT, G. (1988). Damreme’uwaimramidzé: estudos sistemáticos e comparativos de gramática Xavante. Ed. experimental. Campo Grande: Missão Salesiana de Mato Grosso.
LOWIE, R.H. (1946). The Northwestern and Central Ge. Handbook of South American Indians (org. por J. H. Steward) 1:477-517. (Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 143.) Washington: Government Printing Office.
MATOS, R. de. (1973). Fonêmica Xerente. Série Lingüística 1 (org. por L. I. Bridgeman). Brasília: Summer Institute of Linguistics.
MAYBURY-LEWIS, D. (1974) [1967]. Akwe)-Shavante Society. New York: Oxford University Press.
McLEOD, R. (1974). Fonemas Xavánte. Série Lingûística 3 (org. por L. I. Bridgeman). Brasília: Summer Institute of Linguistics.
NIMUENDAJÚ, C. (1980). Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
PETESCH, N. (1993). A trilogia Karajá: sua posição intermediária no continuum Jê-Tupi. Amazônia: Etnologia e História Indígena (org. por E. V. de Castro e M. C. da Cunha), pp. 365-382. São Paulo: NHII/USP e FAPESP.
POHL, J. E. (1951) [1832]. Viagem no interior do Brasil. Trad. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro.
RENAULT-LESCURE, O. (1999). Le caraïbe insulaire, langue arawak: un imbroglio linguistique. In: Breton 1999, pp. XLVII-LXVII.
RODRIGUES, A. D. (1999). Macro-Jê. The Amazonian languages (org. por R. M. W. Dixon e A. Y. Aikhenvald), pp. 162-206. Cambridge: Cambridge University Press.
A LIAMES: Línguas Indígenas Americanas utiliza a licença do Creative Commons (CC), preservando assim, a integridade dos artigos em ambiente de acesso aberto.
Os artigos e demais trabalhos publicados na LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, publicação de acesso aberto, passa a seguir os princípios da licença do Creative Commons. Uma nova publicação do mesmo texto, de iniciativa de seu autor ou de terceiros, fica sujeita à expressa menção da precedência de sua publicação neste periódico, citando-se a edição e a data desta publicação.